Assisti ontem o filme “Her”, do Spike Jonze. A história de
um cara (Joaquin Phoenix) que se apaixona por um sistema operacional, uma
inteligência artificial que evolui a partir da experiência com o usuário e se
manifesta exclusivamente através do som (a voz é da Scarlett Johansson, e
creiam, isso ajudaria até aos mais críticos se apaixonarem por uma “máquina”).
Achei o filme muito foda (“muito foda” é o meu jeito de dizer “bonito” sem
parecer meio gay). Gostaria de comentar sobre a coisa, então já aviso que não
tem como fazer isso bem sem contar o final (“spoilers”). Na verdade, não vejo grande mal em saber o fim
de uma história de antemão. Quando li Madame Bovary e Os Irmãos Karamázov,
passei antes pelos geniais prefácios do Otto Maria Carpeaux e isso em nada
diminuiu a fruição do texto. Pelo contrário, apurou o meu olhar para certas
sutilezas que de outro modo passariam batidas. Buenas, guardadas as devidas
proporções (Maria Carpeaux, gigante - Mario Telmo, liliputiano), segue minha
opinião de cinéfilo meia-boca.
Inicialmente, parece que o mote do filme é o mesmo daquele
do cara que se apaixonou por uma boneca de silicone, “A Garota Ideal”. Você
conhece, né? Uma fábula moderna onde uma cidade inteira vive a projeção de um
sujeito para ajudá-lo - numa espécie de terapia altruísta - a sair da fantasia
(é legal, vale a pena ser visto).
Mas depois de algum tempo a gente percebe que o dilema em “Her”
é outro. Algo parecido com o que já se viu em Blade Runner, em Inteligência Artificial
(aquele do gurizinho) e na última versão da série Battlestar Galactica (que
ameaçou explorar bem o assunto mas que depois - até onde vi - meio que perdeu a
mão), entre outros: se apaixonar por uma
máquina? A questão moral/filosófica é praticamente a mesma, mas este filme do
Spike Jonze se diferencia dos demais. Não se trata de atração por uma boneca
(um ser inanimado), mas também sequer se trata de paixão por algo corpóreo. O
personagem principal se envolve com uma voz. O máximo que se pode conceder em
termos de materialidade é que o cara começou a gostar de um chip.
Nos outros filmes, os clones de seres humanos (replicantes
no Blade Runner, Cylons no Galactica, etc) são retratados como criaturas
superiores ao homem, porque além de serem fisicamente mais resistentes e ágeis,
são capazes de aprender através da observação e análise e se auto-replicar.
Imagino que a premissa aí é de que eles podem realizar cada vez mais atividades
neuronais, sinapses ou sei lá que outros nomes se dá pra esse negócio de usar o
cérebro mais e melhor. Então, se as criaturas constroem cérebros cada vez mais
complexos, é previsível que em dado momento se tornarão mais inteligentes que
os seus criadores (que também têm cérebros complexos, mas não desenvolvem). Na
minha opiniãozinha o que sempre faltou nesses filmes é uma explicação mais
aprofundada (uma tentativa de), sobre o momento em que uma programação (ou algo
que o valha) vira consciência. Seria o equivalente a dizer o momento em que uma
máquina adquire alma. Isso é dado de barato ou fica em suspenso e geralmente é
essa incerteza que sustenta esses filmes, que mantém a tensão. Tudo bem, os
filmes não deixam de ser interessantes, mas também ficam muitos buracos na
trama. Destrinchar isso levaria muito tempo e seria necessário escrever um
livro, mas resumindo dá pra dizer que é muito antropocêntrico (e bobo) quando
nos filmes os clones de gente desenvolvem sentimentos humanos. Eles odeiam,
ficam tristes, choram e, principalmente, se apaixonam pelos criadores. Quem
bola estas histórias, parte do pressuposto (imagino) de que a evolução de uma
inteligência artificial passa, necessariamente, pela apreensão e
desenvolvimento de características psicológicas humanas. Mas as características
psicológicas humanas são fruto de uma infinidade de causas (sociais, culturais,
antropológicas, alimentares, climáticas, etc, etc) a que uma máquina, presumivelmente,
não está sujeita. Uma máquina analisaria, cruzaria milhões de informações num
milésimo de segundo e, amparada em alguns critérios, obteria uma resposta, uma
indicação que não conduzisse a um novo erro, esse negócio tão familiar aos
humanos.
Mas aí está uma boa questão: quais seriam estes critérios? É
muito difícil falar sobre essas coisas, porque nós, homens, não podemos viver
sem o erro. A Ciência diz isso. Portanto, falar de uma inteligência evoluída,
uma que não incidisse em erros (ou que pelo menos não incidisse nos mesmos
erros que nós) é falar de uma coisa que não conhecemos, ou seja, como não temos
parâmetros, só podemos fazer um exercício de imaginação. Tudo bem, isso vale. O
Einstein não dizia que a imaginação vale mais que o conhecimento? O problema é
que existem imaginações boas e outras nem tanto. Em geral é nem tanto.
É muito mais legal quando os filmes não reduzem as
inteligências artificiais a simples arremedos de seres humanos, e sim deixam a
coisa no terreno do insondável, como fez o Kubrick em 2001, Uma Odisseia no
Espaço. É mais honesto também. E é neste aspecto que o filme “Her” se destaca.
Embora mantenha o clichê da máquina apaixonada pelo humano, faz isso com uma
certa ambiguidade e mostra, no final, a máquina transcendendo a condição
humana, abandonando o homem porque as suas (da máquina) investigações sobre o
mundo tornaram inviável a coexistência. É triste e bonito. É instigante, faz
pensar.
Nenhuma comparação com o filme do Kubrick, claro. São coisas
completamente diferentes. O “Her” é mais palatável, mais pra consumo rápido. Pode
ser visto como uma crítica ao processo de individualização que as pessoas estão
vivendo. Em dado momento do filme, a “namorada” do protagonista revela que está
“envolvida” com milhares de outros usuários e que, por 641 deles, está
apaixonada. O sujeito começa a observar as pessoas ao redor, todas falando
sozinhas e rindo, todas com um dispositivo auricular, vivendo seus romances virtuais.
Isso vai um pouco além, mas não é tão diferente do que se vê hoje. Eu vejo com
um misto de desprezo e curiosidade todas essas pessoas fuçando o tempo todo nos
seus celulares, tablets e sei lá mais o que. É doido. Estamos vivendo um
momento muito estranho. No início me dava ao trabalho de contar quantas
pessoas, no trem, ficavam futricando nos seus aparelhinhos, depois deixei de
lado pois se tornou corriqueiro. Isso deve ter alguma coisa a ver com evolução,
é só o que consigo pensar. A gente vai acabar numa Matrix mesmo, não vai?
Pensar nisso angustia, mas não dá pra deixar de fazê-lo. Filmes como “Her”
talvez sejam visionários, talvez estejam apenas antecipando um negócio que logo
chegará.
Foda!
Foda!










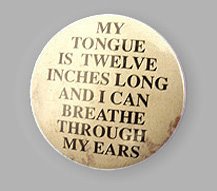









Nenhum comentário:
Postar um comentário